Na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Queen Kelly, de Erich von Stroheim, e Labirinto dos Garotos Perdidos, de Matheus Marchetti, se destacaram como obras que, apesar da distância temporal, dialogam pela ousadia estética e pelo enfrentamento das convenções. Enquanto Stroheim transforma a ruína de um filme censurado em relíquia provocadora, Marchetti aposta no delírio queer e no exagero visual como formas de resistência. Ambos encaram o cinema como espaço de instabilidade criativa, onde o excesso, o desejo e a transgressão são formas legítimas de narrar e existir.
Queen Kelly
Queen Kelly, de Erich von Stroheim, é uma dessas obras que desafiam os limites do tempo e da forma. Assim como esculturas clássicas cujas ausências de membros não diminuem seu impacto estético ou simbólico, o longa sobrevive como relíquia cinematográfica – incompleta, fraturada, mas ainda fascinante. A exibição, restaurada por Dennis Doros e Amy Heller, não apenas reacende o debate sobre a liberdade artística e os limites da censura nos anos 1920, como também reforça o lugar ambíguo de Stroheim na história do cinema: entre o gênio e o maldito.

A projeção atual combina a parte filmada originalmente com Gloria Swanson no centro da narrativa, uma trilha sonora composta por Adolph Tandler (1931) e Eli Denson (em versão contemporânea), além de uma reconstrução visual do final com base em fotos de produção e intertítulos. O resultado é algo entre cinema e arqueologia – uma experiência que nos convida não apenas a assistir, mas a imaginar.
A história se passa em um reino fictício europeu, onde a jovem Patricia Kelly, órfã criada em um convento, é seduzida pelo príncipe Wolfram, noivo da rainha Regina V — figura autoritária e instável. A primeira parte, ainda com direção de Stroheim, entrega o que o cineasta fazia de melhor: um olhar cínico e provocativo sobre a moralidade burguesa, encenado com opulência e perversidade. O filme começa como conto de fadas, mas logo descamba para o grotesco e o inquietante, quando Kelly é humilhada e expulsa do palácio com chicotadas. A partir daí, o enredo assume tons cada vez mais escuros.
Mesmo inacabado, Queen Kelly carrega a marca do maximalismo de Stroheim – cenas longas, cenários suntuosos e a subversão do que seria um romance convencional. Há aqui ecos diretos de “Maridos Cegos” e “Esposas Ingênuas”, com o erotismo velado e os personagens motivados por desejos vis, camuflados sob a aparência da nobreza. Stroheim desmonta, uma vez mais, o ideal aristocrático que Hollywood tanto tentava romantizar. Mas sua obsessão pelo detalhe, sua recusa em suavizar a crítica, e sua estética sem concessões, novamente o colocariam em rota de colisão com o sistema.
É justamente na segunda parte, que deveria se passar na colônia africana de Cobourg-Nassau, que o filme implode. As cenas não filmadas foram substituídas por fotos e intertítulos baseados no roteiro. A ausência da ação, embora frustrante, permite que o espectador vislumbre o projeto de Stroheim em sua radicalidade: Kelly, forçada a casar-se com um homem sifilítico e decadente, atravessa uma jornada que mistura decadência física, sexualidade reprimida e crítica ao colonialismo. A representação do noivo africano é uma caricatura grotesca – não à toa, motivo de censura e motivo para o colapso do projeto. Mas o choque é intencional: Stroheim sabia que provocava e o fazia com propósito.
A reconstituição final talvez não substitua a força cinematográfica do original, mas funciona como um convite ao pensamento. Ver Queen Kelly hoje é presenciar o que o cinema poderia ter sido – e, por consequência, o que foi impedido de ser. Mais do que um filme perdido, ele é um registro das tensões entre arte, mercado e moral.
Ironicamente, foi através de “Crepúsculo dos Deuses”, em 1950, de Billy Wilder, que Queen Kelly encontrou sua vingança silenciosa. Swanson, agora vivendo a decadente Norma Desmond, projeta cenas do filme inacabado em sua mansão, sob o olhar do mordomo interpretado por Stroheim. A ficção ecoa a realidade; duas figuras maiores do cinema mudo contemplando as ruínas do que poderia ter sido. A rainha Kelly, afinal, nunca reinou de fato – mas sua ausência ainda reverbera como tragédia e memória.
Labirinto dos Garotos Perdidos
Em Labirinto dos Garotos Perdidos, o diretor Matheus Marchetti entrega um filme corajoso, estranho, por vezes exaustivo, mas absolutamente necessário. Inserido em uma tradição ainda pouco explorada no cinema brasileiro – a do terror e do suspense com tintas estilizadas e estéticas radicais – com referências que vão de “Depois das Horas” a Dario Argento, o longa mas também é uma carta de sobrevivência, ao colocar em cena uma experiência queer situada em um Brasil real e fabulado.

A trama acompanha Miguel (Giuliano Garutti), um jovem gay que, após uma decepção amorosa, mergulha em uma noite labiríntica de encontros cada vez mais bizarros pelas ruas de uma São Paulo transformada em palco de delírios, violência e desejo. A cidade se apresenta como um território ambíguo: ora onírica, ora ameaçadora, mas sempre pulsante. Há algo de encantado e amaldiçoado nesse espaço – um terreno fértil para o cruzamento entre sexo e morte, prazer e sacrifício.
A estética do filme é um de seus grandes trunfos. O uso de cores intensas, a textura granulada da imagem, os planos detalhados, os zooms inesperados e até a dublagem propositalmente artificial compõem um universo visual que flerta com o exagero, mas nunca com o desleixo. Marchetti claramente se diverte em tensionar os limites entre o ridículo e o sublime – e esse desequilíbrio é parte do charme da obra.
Nem tudo, no entanto, se encaixa com a mesma precisão. Há momentos em que o filme parece se perder em seu próprio devaneio. A estrutura episódica, embora coerente com a proposta onírica, cansa. A revelação final, que poderia funcionar como uma chave simbólica para o que vimos até então, não tem a força necessária para dar coesão à narrativa. O horror, embora visualmente referenciado ao giallo, carece de impacto emocional real. Ainda assim, os fragmentos valem por si; o encontro no parque, o piano ensanguentado, o rapaz que leva a mãe pro encontro. Cada cena é um pequeno universo de absurdos que espelham angústias reais.
O grande mérito do filme, no entanto, é não fugir de sua identidade. Labirinto dos Garotos Perdidos é queer até a medula, e isso não se resume à orientação sexual de seu protagonista, mas está na estética, na construção dos corpos, no humor desconfortável, na forma como o desejo é filmado com prazer e ameaça ao mesmo tempo. É um cinema que ocupa seu espaço com coragem, mesmo tropeçando.
E é exatamente por isso que, mesmo com suas falhas, Labirinto dos Garotos Perdidos merece ser celebrado. Fazer cinema de gênero no Brasil já é difícil. Fazer cinema de gênero queer é um ato de resistência. Marchetti insiste em fazer filmes que desafiam tanto o mercado quanto as convenções – e só por isso já deveria contar com todo o apoio possível.
Leia mais sobre mais filmes da 49ª Mostra:
- Crítica | Há pedaços de cada filme da carreira de Guillermo del Toro em Frankenstein
- 49ª Mostra | Nova ‘78; After This Death; Urchin
- Crítica | O Diário de Pilar na Amazônia traz conscientização ambiental com sensibilidade
- Crítica | Bugonia – A comédia alienígena que revela o lado mais humano de Yorgos Lanthimos
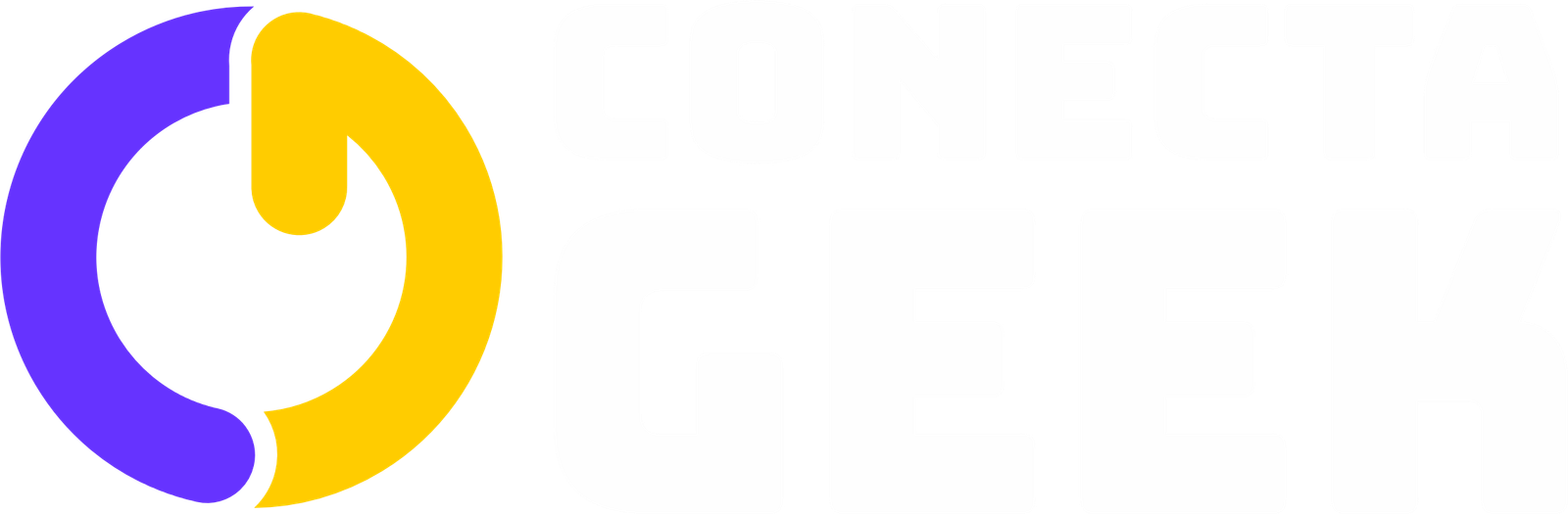










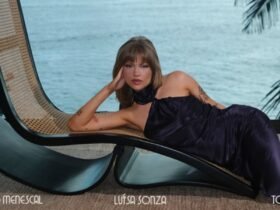




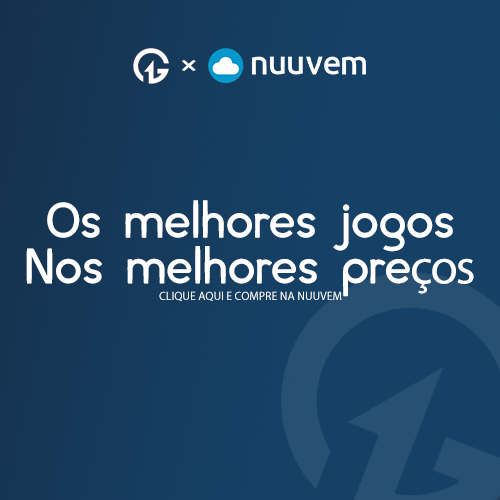


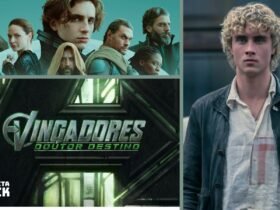


Deixe uma resposta