Um hospital é um lugar onde o tempo se dilata. Ali, relógios seguem outros ritmos e os minutos pesam diferente – mais longos, mais úmidos, mais cheios de significados. É justamente nesse ambiente que começa e termina Uma Bela Vida, o mais recente filme de Costa-Gavras. Aos 92 anos, o veterano cineasta propõe uma travessia quase silenciosa sobre o envelhecimento e a finitude. E ainda que evite tratar diretamente de si mesmo, o que vemos em tela é, sim, uma espécie de auto-reflexão: um diretor em pleno domínio técnico, mas que parece estar respondendo, com poesia seca e olhar clínico, à pergunta que ronda a todos nós – como se preparar para o fim?
Adaptado do livro de Régis Debray e Claude Grange, o filme acompanha Fabrice Toussaint (Denis Podalydès), um filósofo que, após uma descoberta médica aparentemente inofensiva – um pequeno cisto – mergulha num processo de autoquestionamento sobre a própria mortalidade. Curiosamente, ele já é autor de uma obra sobre a velhice e a morte na sociedade francesa, mas parece menos familiarizado com os termos médicos mais simples do que seria de se esperar. Esse recurso, talvez propositalmente forçado no roteiro, expõe um paradoxo interessante: mesmo os intelectuais mais preparados podem fraquejar diante do concreto. Saber conceitualmente sobre a morte é bem diferente de tê-la no horizonte imediato.

É nesse ponto que entra a figura do médico Augustin Masset (Kad Merad). Ele representa o universo dos cuidados paliativos, que ainda recebe pouca atenção frente às abordagens curativa, preventiva ou reabilitadora da medicina. Com ele, o filme se transforma numa espécie de viagem de estudo, em que o filósofo observa, aprende e acompanha pacientes que estão vivendo seus últimos dias. As visitas de ambos aos quartos dos internados constroem um mosaico que mistura delicadeza, sobriedade e o mais humano dos sentimentos: o medo.
A estrutura de Uma Bela Vida é claramente episódica, mas a montagem (assinada por Costa-Gavras em parceria com Loanne Trevisan) amarra bem as situações, evitando que o filme pareça uma colcha de retalhos emocional. Cada cena, cada visita, cada escolha de paciente serve como ponto de partida para reflexões pontuais e eficazes. A fotografia, sem excessos, aposta em uma paleta fria e realista – predominam tons hospitalares, azulados e esverdeados –, mantendo o espectador dentro daquele universo clínico onde a beleza da vida se esconde nos detalhes quase invisíveis.
O diretor evita a tentação do melodrama. Não há espaço para trilhas sonoras manipuladoras ou enquadramentos que busquem comover a qualquer custo. A mise-en-scène é contida, respeitosa, muitas vezes minimalista. Costa-Gavras faz o que poucos diretores conseguem: ele cede espaço ao silêncio. E, com isso, obriga o espectador a olhar para dentro. A ausência de cenas de morte explícitas, por exemplo, é mais poderosa do que qualquer tentativa de dramatização. Saber que um paciente se foi – e não vê-lo – nos aproxima da experiência real de lidar com o luto, onde as despedidas nem sempre têm palco, mas sempre têm peso.
Outro mérito do longa está na composição de personagens secundários, que ganham vida mesmo em curtas aparições. Charlotte Rampling, Karin Viard, Hiam Abbas, Agathe Bonitzer e Ángela Molina emprestam rostos e fragilidade a histórias que são contadas em poucos minutos, mas que reverberam como capítulos inteiros de vidas interrompidas. A escolha de dar visibilidade a personagens femininas em fim de vida, enquanto os profissionais da saúde são majoritariamente homens, abre uma brecha para críticas sutis sobre gênero e poder nas estruturas médicas – ainda que o filme não se aprofunde diretamente nessa questão.
A dramaturgia não caminha pelo arco clássico de transformação pessoal. Nem Fabrice, nem Augustin se transformam, aprendem, se redimem ou se revelam. Isso pode soar estranho num primeiro momento, mas faz total sentido quando se entende o tom e o objetivo da narrativa. Aqui, os protagonistas não estão ali para se desenvolverem, mas para funcionar como condutores – quase espectros – de histórias que pertencem a outros. Eles não são heróis, tampouco vilões ou mártires. São, acima de tudo, presenças discretas, necessárias e, por vezes, invisíveis.
É justamente nessa invisibilidade que o longa encontra sua força. Uma Bela Vida não busca provocar lágrimas, mas inquietações. Não dramatiza a finitude, mas a revela como um dado natural da existência. A recusa em resolver todos os conflitos – sejam morais, filosóficos ou familiares – deixa no ar a sensação de suspensão. Cada história poderia continuar, cada paciente poderia render outro filme. Mas o tempo, como já sabemos, é curto.

E é impossível ignorar o simbolismo de ter Costa-Gavras – ele mesmo, já próximo do fim de sua jornada – refletindo sobre a morte com tamanha serenidade. É como se o cineasta, autor de obras políticas intensas como “Z”, “Amém” e “Missing”, agora voltasse o olhar para a única política que nos iguala a todos: a do fim. Sua escolha de abandonar os grandes escândalos geopolíticos e mirar nas pequenas dores privadas revela mais do que maturidade. Revela, talvez, uma necessidade pessoal. E isso confere ao filme um valor existencial que o torna mais comovente quanto mais se pensa nele.
Uma Bela Vida, nesse sentido, é mais do que um filme sobre a morte. É um filme sobre a lucidez de quem sabe que não estará aqui por muito mais tempo – mas que ainda tem algo a dizer, mesmo que em voz baixa.
Leia outras críticas:














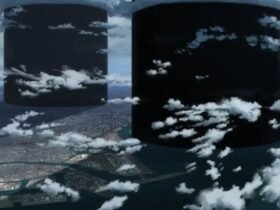








Deixe uma resposta