É curioso quando um diretor, reconhecido pela habilidade em criar atmosferas densas e perturbadoras, decide se entregar a um projeto em que a doçura se impõe de forma quase autoritária. Em A Vida de Chuck, Mike Flanagan, cineasta responsável por séries como “A Maldição da Residência Hill” e “Missa da Meia-Noite”, opta por explorar uma história de delicadeza existencial, mas o resultado se aproxima mais de uma propaganda de otimismo forçado do que de uma experiência cinematográfica com densidade dramática. O longa nasce da adaptação de um conto de Stephen King, e a expectativa natural era de encontrar ali camadas de complexidade emocional e um olhar atento para os horrores sutis da vida cotidiana. No entanto, o que se revela é um melodrama embalado em frases de efeito que poderiam estar num perfil motivacional do LinkedIn.
Flanagan sempre demonstrou afinidade com os elementos visuais: seu jogo de luz e sombra, a cadência de câmera lenta e a maneira como costura a melancolia em seus enquadramentos são marcas que fizeram seu nome. Em A Vida de Chuck, essa mesma identidade está presente, mas diluída, quase tímida, como se tivesse sido domesticada para se adequar a uma narrativa de consumo rápido. É notável, por exemplo, como a fotografia insiste em banhar a tela em luzes mornas, quentes, que mais parecem querer convencer o espectador de um aconchego que não se sustenta. A estética lembra a de um comercial de banco, em que cada frame busca transmitir segurança, esperança e pertencimento, mas sem se arriscar no desconforto ou na contradição.
Esse tom publicitário não fica restrito às imagens. Ele se estende para os diálogos, construídos em torno de sentenças prontas, repetidas à exaustão. “Aproveite o momento”, “a vida é cheia de possibilidades”, “cada dia é um novo começo”. São frases que, em sua formulação, funcionariam em cartões motivacionais, mas no cinema acabam soando artificiais, quase como um empurrão forçado para que o público se emocione. O problema não é o sentimentalismo em si – o cinema sempre flertou com ele, de Frank Capra aos dramas familiares de Spielberg – mas a maneira como o filme tenta manipular essa emoção, transformando-a em mecanismo narrativo em vez de consequência natural da trama.
Tom Hiddleston, no papel de Chuck adulto, aparece menos do que se poderia esperar. E quando surge, carrega a tarefa ingrata de sustentar um personagem que não tem profundidade suficiente para justificar a importância que a narrativa lhe confere. Seu sorriso constante, enquadrado como se fosse símbolo de uma vida plena e ordinária, não ganha complexidade, tampouco ambiguidade. A impressão é de que Chuck existe mais como uma ideia – a do cidadão comum celebrado por sua mediocridade estável – do que como uma pessoa palpável, com contradições e falhas. Hiddleston, ator talentoso, entrega dignidade ao papel, mas não encontra material dramático suficiente para trabalhar.
Entre os coadjuvantes, Mark Hamill consegue se destacar, ainda que de forma caricatural. Há em sua presença uma energia diferente, mais viva, talvez até deslocada, mas que ao menos injeta alguma variação em um filme dominado por uma uniformidade sentimental sufocante.
Outros nomes aparecem em momentos que buscam marcar o espectador pela emoção direta, como a dança na rua, cena que até possui impacto estético, mas que rapidamente se dissolve diante da constância com que o filme insiste em repetir esse tipo de artifício. O gesto de dançar em público, em tese libertador, perde sua potência quando é usado como um recurso entre tantos que apelam ao espectador para sentir – em vez de permitir que o sentimento nasça espontaneamente.

A montagem também contribui para essa sensação de artificialidade. A estrutura fragmentada, que começa com um suposto fim do mundo para depois retornar à infância e juventude de Chuck, cria expectativa de um arco narrativo mais ousado, talvez até irônico. No entanto, o que se segue é uma colagem de episódios que funcionam como pequenas vinhetas motivacionais, desconectadas de uma progressão dramática significativa. O filme se organiza como se cada cena fosse pensada para gerar um clímax emocional isolado, sem que essas emoções conversem entre si. O resultado é um todo que soa raso, como uma sucessão de tentativas de arrancar lágrimas pela insistência, não pela força do que está sendo contado.

É nesse ponto que a comparação com outros “filmes de coach”, como “À Espera de um Milagre” e “Um Sonho de Liberdade” se torna inevitável – mas eu duvido que se torne tão memorável quanto os supracitados. A Vida de Chuck constrói-se como um manual de autoajuda em formato audiovisual, em que cada metáfora da mediocridade da vida de escritório ao gesto catártico de dançar, é tratada como revelação universal. O cinema, contudo, não é palestra motivacional, e quando se aproxima desse tom, corre o risco de se tornar panfletário. A canalhice da construção está justamente aí: não no desejo legítimo de emocionar, mas na manipulação transparente de recursos estéticos e narrativos para impor ao espectador o que ele deve sentir.
E é nesse contraste que a direção de Flanagan soa mais careta do que nunca. Se antes sua mise-en-scène evocava sombras e silêncios para explorar o psicológico de seus personagens, aqui ele se apoia em imagens ilustrativas que subestimam a inteligência do público. O espaço para interpretação se reduz, o mistério se esvai, e a obra se transforma em um produto açucarado que, ao tentar falar da grandeza da vida comum, apenas revela a pobreza de sua própria elaboração.
Terminei de assistir ao filme com a sensação de gosto amargo na boca, sentindo que Flanagan desperdiçou não apenas o conto de King, mas também sua própria identidade como cineasta. Talvez haja quem se deixe tocar por esse tipo de construção, e não há nada de errado nisso. Mas para quem espera do cinema um espaço de complexidade emocional e de verdade estética, A Vida de Chuck soa como uma experiência esvaziada, com a cara de um comercial, a pose de um drama profundo e a substância rasa de um truque barato.
Leia outras críticas:
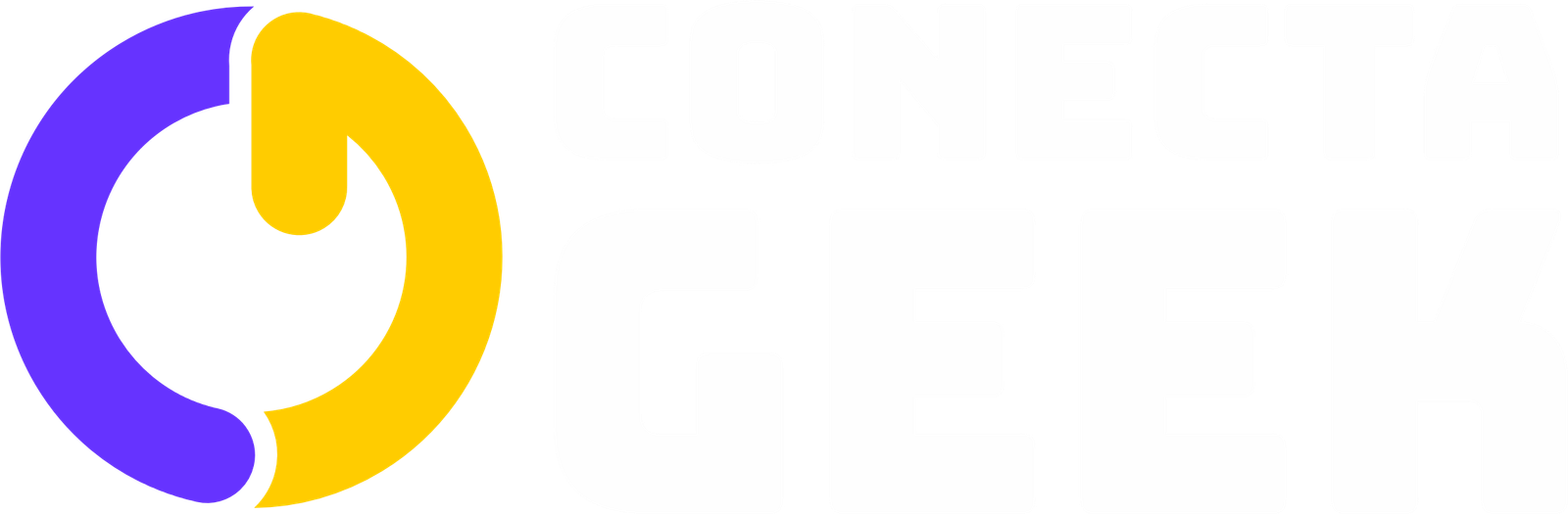


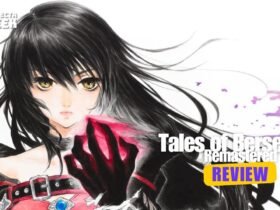






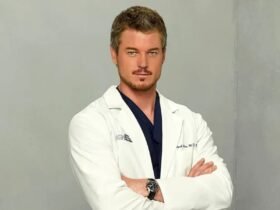













Deixe uma resposta