Eddington é o tipo de filme que provoca reações opostas – há quem o veja como uma ousada crítica social sobre o caos da pandemia e quem o considere apenas uma longa coleção de provocações vazias. De um jeito ou de outro, ele é impossível de ignorar. Dirigido por Ari Aster, o longa marca uma tentativa do cineasta de se afastar do terror de “Hereditário” e “Midsommar” para mergulhar em uma sátira política sobre a era da desinformação, da polarização e do colapso da convivência social. O resultado é um filme de ambição imensa e execução irregular, que alterna momentos de lucidez estética com outros de pretensão inflada – mas sempre guiado por uma visão fria e controlada do mundo.
A trama se passa nos primeiros meses da pandemia de COVID-19, em um Estados Unidos dividido e confuso. No centro está Joe Cross (Joaquin Phoenix), um homem comum que tenta manter algum senso de sanidade enquanto o país mergulha em paranoia, teorias conspiratórias e discursos radicais. Ele se vê cercado por vizinhos fanáticos, amigos que se tornam militantes de causas extremas e uma internet que amplifica o ódio. Enquanto tenta cuidar da mãe doente e sobreviver ao isolamento, Joe começa a se envolver com figuras políticas locais, entre elas o prefeito Garcia (Pedro Pascal), que encarna o populismo bem-intencionado, mas cínico. A partir daí, o filme acompanha como diferentes personagens – entre eles uma ativista interpretada por Emma Stone e um influenciador carismático vivido por Austin Butler – colidem em uma espiral de manipulação, histeria coletiva e desespero.
Do ponto de vista estético, Aster demonstra um domínio visual impressionante. Sua mise-en-scène é marcada por enquadramentos que organizam o caos e transformam o absurdo cotidiano em coreografia. Existe um rigor no modo como o diretor constrói o espaço, personagens são constantemente isolados em quadros apertados, o que traduz visualmente o confinamento físico e emocional da pandemia. Em contraposição, as cenas coletivas — debates públicos, comícios, confrontos — são filmadas com câmera em movimento e planos amplos, captando a sensação de espetáculo e desordem. Essa alternância entre proximidade e distanciamento é um dos recursos mais eficazes do filme, expressando a solidão dentro do barulho coletivo.
Complementando essa mensagem imagética, fotografia reforça essa ambiguidade. A paleta de cores alterna tons frios, quase clínicos, nas cenas domésticas, e cores saturadas nas sequências de exposição pública. O resultado é um contraste constante entre o real e o performativo – entre o indivíduo que sofre e a persona que grita nas redes. O trabalho de luz, muitas vezes com fontes diretas e sombras duras, acentua a artificialidade dos ambientes digitais, onde todos parecem iluminados demais, visíveis demais, julgados demais. É uma escolha coerente com a intenção satírica do filme, ainda que às vezes soe excessivamente calculada, quase ensaiada demais para um mundo que se pretendia caótico.

A montagem é igualmente ambiciosa. Aster e seu editor constroem uma estrutura que alterna o frenesi de informações – com cortes rápidos, sobreposições de telas, sons de notificações – e longas pausas que deixam o desconforto se instalar. Essa cadência irregular cria uma sensação de exaustão intencional, como se o espectador fosse levado a experimentar o mesmo cansaço mental dos personagens. O problema é que, na segunda metade, o ritmo se perde, a insistência em alongar algumas sequências – especialmente as discursivas – acaba diluindo a força das ideias. O filme parece se repetir, rodando em círculos sobre os mesmos temas sem avançar dramaticamente.
O roteiro, escrito pelo próprio Aster, é onde o projeto encontra seus maiores atritos. A intenção de discutir a polarização política e a manipulação ideológica é louvável, mas a maneira como o cineasta estrutura o debate nem sempre é equilibrada. Ao ironizar tanto os extremistas da direita quanto os militantes progressistas, o filme corre o risco de adotar uma falsa neutralidade — a famosa ideia de que “os dois lados são igualmente ridículos”. Essa postura pode soar provocativa, mas também superficial, principalmente quando aplicada a eventos ainda recentes e dolorosos. O resultado é uma crítica que parece mirar em todos, mas acerta em poucos.
Mesmo assim, há momentos em que o texto encontra clareza. Quando Eddington se concentra nas consequências da solidão e do medo – no desespero das pessoas em encontrar um culpado ou uma causa –, o filme atinge uma verdade amarga sobre o tempo em que vivemos. O problema é que Aster, fascinado pela própria ironia, frequentemente sacrifica a empatia para manter o sarcasmo. Ele filma o sofrimento como uma farsa e a farsa como espetáculo, mas raramente deixa espaço para um sentimento genuíno atravessar a tela.
As atuações, porém, dão vida onde o roteiro hesita. Phoenix está intenso e introspectivo, explorando cada nuance de Joe Cross – um homem que oscila entre a lucidez e o delírio. Seu olhar cansado e corpo hesitante comunicam mais do que muitas falas. Emma Stone, mesmo com pouco tempo de tela, entrega uma energia que equilibra desespero e ternura, enquanto Austin Butler cria um personagem magnético, símbolo de uma geração que transforma crença em performance. O destaque, contudo, vai para Pedro Pascal, que injeta humor e humanidade em um papel que poderia facilmente ser apenas caricatural. O elenco, no geral, faz mais do que o roteiro permite, encontrando verdade onde o texto vacila.

O design de som e a trilha musical são usados com inteligência; ruídos digitais, vozes sobrepostas e sons cotidianos se misturam até formar uma textura quase ensurdecedora. É como se o espectador estivesse preso dentro de um feed de redes sociais que nunca silencia. Já a direção de arte constrói espaços que lembram o entrelugar entre o real e o imaginário – apartamentos que parecem estúdios, praças que soam cenográficas –, sugerindo que, no mundo de Eddington, tudo é uma encenação.
Eddington é um filme irregular, mas corajoso. Há momentos em que Ari Aster encontra uma lucidez e transforma o absurdo da realidade em gesto cinematográfico puro; em outros, perde-se em sua própria vaidade. É um espelho deformante da sociedade contemporânea – aquele que tanto reflete nossos vícios quanto amplifica as falhas do próprio autor. O que se vê é uma obra que tenta compreender o colapso do presente, mas que, talvez, o encene cedo demais.
Leia outras críticas:
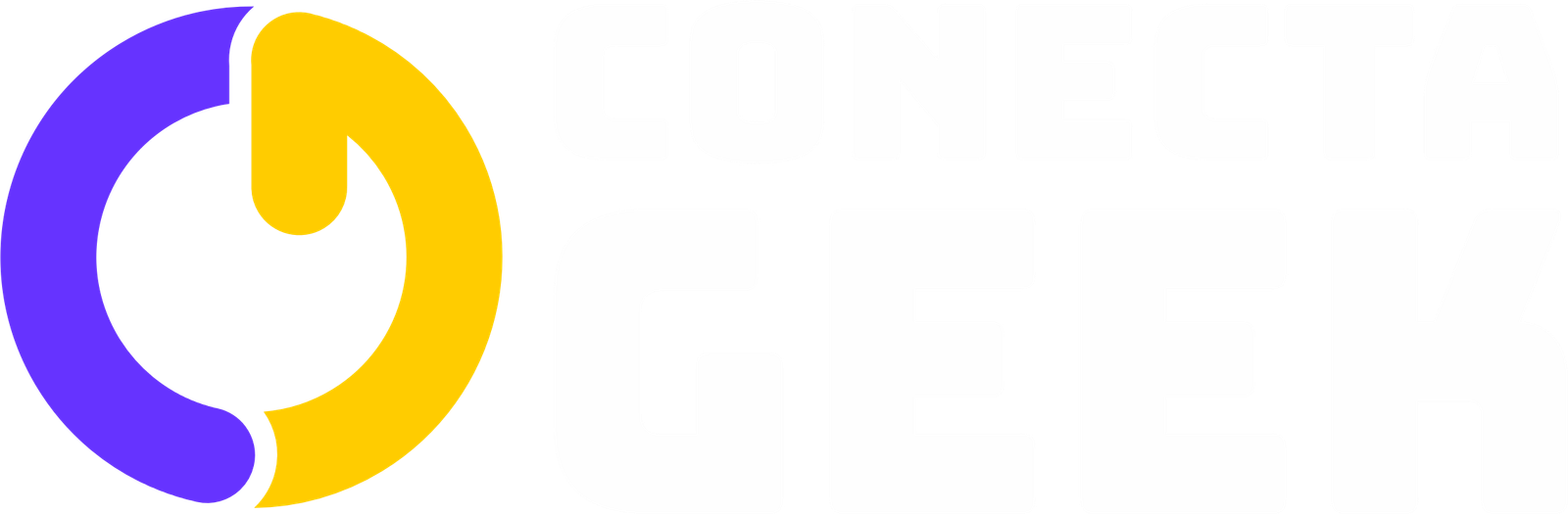




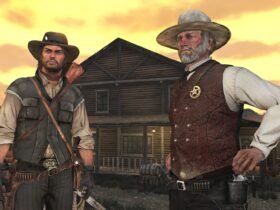






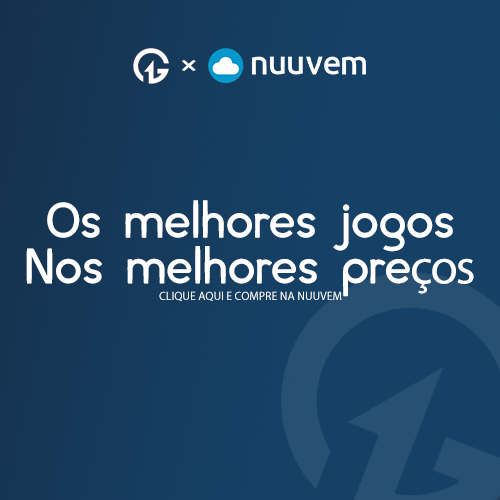




Deixe uma resposta