Se Babygirl fosse uma peça de teatro, a cortina abriria em um cenário impecável: Nicole Kidman, impecavelmente composta, andando de um lado para o outro entre o escritório moderno e a casa suburbana, entre a mulher de negócios e a mãe dedicada. Halina Reijn, que já mostrou seu olhar afiado em “Morte Morte Morte”, coloca nossa protagonista em uma verdadeira dança entre esses dois mundos que, aparentemente, não se tocam. O que Reijn faz, com sutileza, é mostrar que, na verdade, eles estão mais conectados do que gostaríamos de acreditar. E é nesse desconforto, entre os papéis que Romy (Kidman) tem que desempenhar, que o filme começa a falar sobre o que muitas mulheres enfrentam em silêncio: a repressão, a submissão e o desejo escondido.
Tudo em Babygirl parece uma grande metáfora para o que a sociedade espera da mulher madura. Romy, com seu papel de mãe, esposa e CEO, está sempre tentando equilibrar as expectativas externas com suas próprias frustrações internas. A ideia de ser uma mulher desejável, mas também responsável, parece pesar sobre seus ombros. O filme joga com essa dualidade e com o desejo (quase proibido) de ser mais do que isso — de ser livre para sentir, para errar, para se perder em algo que não tenha a ver com obrigações.
Kidman, sempre capaz de comunicar mais com um olhar do que muitos com um monólogo, faz uma performance silenciosa e introspectiva, como se estivesse em constante batalha consigo mesma. E, de certa forma, ela está. Entre o desejo de ser a mulher poderosa e a tentação de ser vulnerável, Romy se vê presa, não só às suas responsabilidades, mas ao que a sociedade espera de sua sexualidade. A química entre Kidman e Harris Dickinson, que interpreta o estagiário com cara de “bom moço”, adiciona uma tensão sutil. Não é exatamente um romance quente, mas é a energia de algo que pode ser perigoso e, ao mesmo tempo, libertador.

Reijn se apega ao que há de mais humano nas relações de poder — e no sexo, claro. Mas o que é fascinante em Babygirl é a maneira como ela fala sobre esses temas de forma quase distante, como quem observa de longe. Não há cenas explícitas que escancarem o erotismo, mas há um olhar sutil e cuidadoso sobre a sexualidade de Romy, que é mais sobre o que não se diz do que sobre o que se faz. São os gestos, os olhares furtivos e os momentos de introspecção que geram a tensão, e o filme sabe exatamente como usar a câmera para capturar esses momentos de “quase”. Às vezes o foco está nítido, outras vezes se perde em uma difusão que diz tanto sobre o estado mental da protagonista quanto qualquer cena de sexo explícito poderia.
Mas Babygirl não é só sobre desejo e repressão. O filme também levanta questões sobre o controle e a submissão, que surgem não só no ambiente de trabalho, mas dentro de casa. Ao mesmo tempo que Romy é CEO de uma empresa, ela também é responsável por manter as aparências em sua vida pessoal. E, nesse equilíbrio entre ser forte no trabalho e “adequada” em casa, o que se perde é o espaço para ser quem realmente se é. A forma como Reijn lida com essas expectativas é afiada, quase como uma sátira disfarçada de drama psicológico. Há algo bem-humorado, mas também profundamente triste, nessa abordagem.
Reijn também usa do emprego do casal para abalizar seu comentário sobre relações de poder e aparência. Romy, enquanto CEO de uma empresa que trabalha com robôs, só pensa no mecânico dentro do trabalho, em casa, tudo que ela menos quer é mais um sexo pré-programado, como seu marido, Jacob (Antonio Banderas) costumeiramente faz. Já ele, por sua vez, também ocupa um cargo de liderança sendo um diretor de teatro, no entanto, parece que, ao trabalhar tão intensamente as relações humanas dentro do campo da ficção, na vida real, e, principalmente, sexual, ele está bastante confortável com o básico.

Essa relação dicotômica deixa evidente que Romy está sexualmente frustrada, mas em nenhum momento ela deixa de amar seu marido. Por isso ela sente tanta culpada e confusão.
Assim como no seu filme antecessor, Reijn, parece ser menos criativa e mais funcional em sua cinematografia. Em Babygirl não há grandes planos ou cenários grandiosos, mas sim uma constante atenção aos detalhes — ao ambiente em que a personagem está, ao que ela observa e, principalmente, ao que ela não consegue dizer. A câmera se aproxima, se afasta, foca, desfoca, como se estivesse tentando compreender Romy sem realmente conseguir. E isso é, de certa forma, a essência do filme: a busca por algo intangível, que está ali, mas não é facilmente capturado.
E enquanto tudo isso acontece, a trilha sonora segue como um guia invisível. Em vez de músicas dramáticas, a escolha de faixas curtas e descompassadas parece refletir o ritmo do próprio filme, que vai e volta entre momentos de tensão e de introspecção. A música não tenta intensificar o que vemos em tela, mas sim se alinhar com a desconexão emocional que Romy vive. Essa música eletrônica com vocais limpos parece até mesmo um reflexo de seus pensamentos não ditos, de sua luta interna.
Porém, Babygirl tem alguns pontos incômodos. No terceiro ato, o filme começa a se perder um pouco em suas próprias ideias. Há uma tentativa de dar um fechamento mais dramático à trama, mas que parece forçado, quase um clichê que não combina com o tom mais sutil do restante da narrativa. O que deveria ser uma resolução intrigante acaba soando um pouco superficial, como se o filme estivesse tentando dizer mais do que realmente precisava.
As conversas entre as mulheres do filme, no entanto, são um ponto alto. Romy, Esme (Sophie Wilde) e Isabel (Esther Rose McGregor) têm desejos e experiências tão diferentes que, por mais que estejam interligadas por relações de poder, elas também representam diversas formas de se ser mulher no mundo contemporâneo. A troca entre elas, embora nem sempre seja verbalizada de forma clara, carrega nas entrelinhas a luta por validação — seja no trabalho, na família ou nos próprios desejos.
Do outro lado, Dickinson traz um personagem que poderia facilmente cair no estereótipo do “mocinho errado”, mas ele consegue ir além disso. Sua relação com Romy é carregada de ambiguidades, e a falta de grandes gestos ou declarações de amor só aumenta a tensão entre os dois. Ele é jovem, atraente, mas também vulnerável, e essa dinâmica de poder, que se inverte a cada novo encontro, é uma das mais interessantes do filme.
O que Babygirl acerta de cheio, ao final, é seu olhar sobre as mulheres e a maneira como elas lidam com o peso da sexualidade e do poder. Não há respostas fáceis aqui, e isso é talvez o mais corajoso do filme. Ele não tenta nos ensinar nada, mas apenas nos expõe a um panorama das tensões que muitas mulheres vivem, sem grandes conclusões.
Há algo de profundamente humano nesse filme, algo que nos toca, mesmo que de forma indireta. Nele nos pergunta: até que ponto conseguimos ser realmente livres, ou, pelo menos, honestos, com nossos próprios desejos? E, talvez, essa seja a pergunta mais importante que um filme pode fazer.
Leia outras críticas:















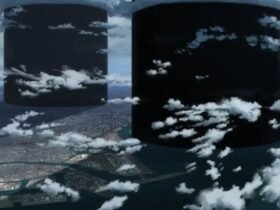








Deixe uma resposta