Existem filmes que transbordam uma qualidade quase impossível de se descrever. Há certas formas de surpreender o telespectador e mergulhar profundamente no surrealismo, é com certeza uma das mais curiosas. Cidade dos Sonhos, de David Lynch, se enquadra nesses longas que não pedem interpretação, mas naturalmente forçam o telespectador a viver um mundo sobrenatural sem fantasmas. Ou melhor: nos provocam a abandonar a necessidade de interpretar com lógica e em vez disso, sentir com o corpo, com o sonho, com a memória.
Logo nos primeiros minutos, há algo de estranho no ar. A atmosfera não é apenas onírica, ela é instável, como se o próprio filme não soubesse o que é. O público pode chegar desavisado ou não, mas independente disso é puxado para dentro de um jogo em que tudo parece ter um duplo sentido: a cidade, os personagens, os olhares, os sons. O que começa como um suspense de identidade logo se desmancha em drama, fantasia, horror psicológico e até musical, sem que a narrativa peça desculpas por isso.
Um pesadelo disfarçado de sonho
O filme acompanha Betty (Naomi Watts), uma atriz recém-chegada a Los Angeles cheia de entusiasmo, que se envolve com Rita (Laura Harring), mulher misteriosa e que aparentemente está sofrendo com uma perda de memória após um acidente de carro. A dupla embarca numa espécie de investigação sobre a identidade de Rita. Mas o que parece uma trama com começo, meio e fim se revela um quebra-cabeça em que as peças não encaixam perfeitamente. E por fim as explicações geram novas dúvidas e tocam profundamente em uma dinâmica surrealista.
A virada narrativa que ocorre na segunda metade do filme quando tudo parece se reconfigurar, como num espelho quebrado e se configura como algo que não é apenas um truque de roteiro. É uma desconstrução do que chamamos de realidade. Lynch joga com o tempo, com a linguagem e com a percepção para revelar o que há por trás da imagem: o trauma, o desejo, o fracasso, a culpa. E tudo isso envolto em silêncio, em rugidos abafados, em música espectral, em gestos e olhares que dizem mais do que palavras.
A forma Lynch de comandar suas produções
Para quem já conhece o cinema de David Lynch, o longa consegue surpreender da mesma forma. É como se o diretor tivesse chegado ao ápice de sua linguagem, refinando tudo o que vinha desenvolvendo desde “Eraserhead” (1977), passando por “Veludo Azul” (1986), “Twin Peaks” (1990–1991) e “Estrada Perdida” (1997). Mas o que torna Cidade dos Sonhos tão marcante é o equilíbrio entre forma e emoção: é um filme profundamente sensorial, mas também tecnicamente preciso.
Como em outras obras, Lynch trabalha com o inconsciente como matéria-prima. A estrutura narrativa não é linear, mas sim circular, espelhada e completamente conectada em si, é algo que ecoa o funcionamento dos sonhos, das memórias e dos desejos reprimidos. O tempo é fluido. O espaço é instável. A identidade dos personagens é mutável. E, mais do que nunca, a lógica emocional é o que conduz a narrativa, não a lógica dos fatos.
Uma curiosidade é que Cidade dos Sonhos nasceu como um piloto de série para a ABC, que rejeitou o projeto. Ao transformar o piloto em longa-metragem, Lynch teve que reconfigurar a estrutura e essa “falha” virou uma notória virtude. O que poderia parecer incoerente se tornou uma das marcas mais poderosas do filme: a sensação de que tudo pode ser um sonho, uma ilusão, uma projeção mental de um trauma.
Se em Veludo Azul ele já explorava os segredos sombrios por trás da aparência suburbana e luminosa dos EUA, e se em Twin Peaks flertava com o paranormal e a multiplicidade do eu, aqui ele vai ainda mais fundo: Cidade dos Sonhos é sobre identidade fragmentada, sobre desejo reprimido, sobre a impossibilidade de distinguir sonho de realidade, mergulhando em temas que atravessam toda a sua filmografia.
Mas há algo que o diferencia: este talvez seja o filme mais emocionalmente devastador de Lynch. A dor de Betty/Diane (as duas personas da protagonista) é palpável. O que era apenas jogo narrativo em Estrada Perdida vira aqui um grito de desespero abafado por uma câmera elegante e uma trilha sonora fantasmagórica. É como se Lynch tivesse finalmente encontrado a forma perfeita de transmitir sofrimento sem precisar verbalizá-lo. E isso tem impacto direto no público que consegue sentir muito bem essa dinâmica expressada.
O cinema como espelho da mente
No longa cada cena funciona como um espelho quebrado da psique de suas personagens. O filme sugere que o que estamos vendo pode ser uma fantasia construída para suportar a dor do real ou talvez o real seja justamente essa dor, disfarçada de sonho. Há um certo emaranhamento que te prende a história na tentativa de encontrar justificativa para os elementos que, de primeira, parecem não fazer nenhum sentido.
O famoso Club Silencio é a grande metáfora disso tudo. “No hay banda… tudo é uma ilusão”, diz o apresentador em uma das sequências mais enigmáticas e poderosas do filme. A revelação de que não há som, que tudo é playback, desarma não apenas as personagens mas o próprio espectador, que precisa lidar com a ideia de que tudo o que viu (e sentiu) pode não ter sido “real”. Mas o impacto emocional é explícito e sentido com inteireza.
Um cinema que te faz pensar, mas também te faz existir
Cidade dos Sonhos propõe uma experiência que vai além da lógica e mergulha profundamente no que é excencial e existencialista. E é por isso que ele ainda causa tanto desconforto em alguns espectadores. Porque exige presença, exige pausa. Num tempo em que tudo precisa ser explicado rapidamente seja em vídeos de “entenda o final de…” ou em listas de curiosidades, o cinema de Lynch caminha na contramão. Ele diz: “sinta primeiro, pense depois. Ou talvez nunca pense do mesmo jeito”.
E aí entra um ponto essencial: como pode o cinema te levar a uma experiência tão diferente que te transforma por dentro? Que te convida a ver com outros olhos, não apenas o filme, mas o próprio ato de ver? Cidade dos Sonhos nos faz lembrar da importância de crescer na originalidade, de valorizar obras que nos desinstalam, que abrem frestas no automático do olhar. Obras que não estão ali para agradar algoritmos, mas para nos tornar mais críticos, mais sensíveis, mais humanos.
Em um mundo que premia fórmulas, o filme de Lynch é resistência. E talvez por isso ainda seja tão necessário. Ele é um lembrete incômodo de que arte não precisa ser “fácil” para ser tocante. Que nem toda narrativa precisa ser linear. Que o espectador não é um consumidor passivo, mas parte ativa da experiência. É ele quem dá sentido, quem completa o vazio, quem preenche os silêncios.
O labirinto continua
Mais de vinte anos depois, Cidade dos Sonhos continua a nos assombrar no melhor dos sentidos. Não só porque é uma obra-prima do cinema contemporâneo, mas porque nos convida a algo raro: duvidar. Do que vemos, do que sabemos, do que esperamos de um filme. E, principalmente, do que esperamos de nós mesmos enquanto espectadores.
Talvez seja esse o maior poder do filme: nos devolver à experiência de assistir como um ato vivo, intenso, pessoal. Não como consumo e sim como encontros e desencontros. É uma sagaz aposta para brevemente retornar nos cinemas em um tempo em que as pessoas e os filmes atuais perdem suas autenticidade e originalidade e copiam as mesmas fórmulas genéricas.
Leia mais:






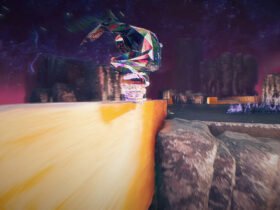










Deixe uma resposta