A primeira impressão que Depois da Caçada deixa – e talvez a mais simbólica para entender o restante de sua proposta – surge já nos créditos iniciais. A escolha tipográfica, tão marcada por um estilo que remete a um certo cineasta nova-iorquino, passa longe de parecer homenagem: soa como empréstimo. E esse gesto de apropriação estética é um prenúncio do que se seguirá.
O novo filme de Luca Guadagnino, realizado após uma fase de grande aclamação, parece aqui preso a um imaginário que tenta dialogar com o presente, mas o faz com ferramentas e referências que não conseguem sustentar a complexidade a que se propõe. É um longa que deseja discutir as tensões da universidade contemporânea, a dinâmica das acusações públicas e a performance como moeda social – mas que, no processo, revela um desconforto em se posicionar, preferindo observar de longe aquilo que promete confrontar.
Guadagnino trabalha novamente com um elenco forte, e isso nunca foi o problema em sua filmografia. Julia Roberts, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Ayo Edebiri oferecem performances que, isoladamente, têm brilho e textura. Mas a sensação constante é que os atores estão operando em frequências mais interessantes do que o filme ao redor deles. Isso se deve, em grande parte, ao roteiro assinado por Nora Garrett, que tenta articular um mosaico temático amplo – a política das universidades, as disputas geracionais em torno do feminismo, as ambiguidades da denúncia e a retórica da transparência – sem, no entanto, construir uma dramaturgia que permita que tais ideias ressoem de forma profunda.

Essa dificuldade se revela especialmente na personagem de Roberts, Alma, uma professora de filosofia que encara uma crise pessoal enquanto tenta se distanciar do escândalo envolvendo um colega e amigo. Guadagnino filma Alma com um distanciamento calculado; seus movimentos, sua postura corporal e suas reações às pressões externas são trabalhados com uma contenção que diz muito sobre a forma como o filme a enxerga. Mas, apesar de Roberts entregar camadas – suas tensões internas, seus vícios, seu incômodo diante da juventude e da exposição – todo esse material dramático parece servir a um arco que o longa hesita em realmente encarar. O passado obscuro de Alma, sua dinâmica com o marido e sua tentativa de se proteger por meio da imagem compõem um tecido que o filme apresenta apenas parcialmente, como se temesse mergulhar no impacto real dessas feridas.
A fotografia de Malik Hassan Sayeed, marcada por uma frieza calculada e por uma luz que frequentemente parece denunciar os personagens, reforça essa sensação de desconforto. O enquadramento duro, as escolhas de composição que isolam indivíduos em ambientes que deveriam ser coletivos e a ênfase em detalhes sugestivos – como objetos posicionados de maneira simbólica – expressam uma crítica visual ao meio acadêmico, tratado aqui como um labirinto de arrogância e autopreservação. Porém, essa crítica fica, por vezes, reduzida ao gesto estilístico, sem que a mise-en-scène encontre situações dramáticas que permitam que a imagem complemente a narrativa de maneira mais contundente.
Quando a história se volta para Hank, vivido por Garfield, a tensão cresce, mas não por motivos necessariamente intencionais. O personagem, sempre à beira do colapso ou da justificativa ensaiada, é filmado de maneira a amplificar suas contradições. Ainda assim, o filme não parece saber se quer colocá-lo sob o crivo moral do espectador ou se deseja transformá-lo em símbolo de um sistema doente. Ele fica preso num limbo: o roteiro flerta com a ideia de um manipulador refinado ao mesmo tempo em que sugere ingenuidade ou autossabotagem. Essa ambiguidade poderia ser interessante se fosse fruto de uma construção cuidadosa, mas aqui soa mais como indecisão narrativa. Guadagnino lança a dúvida ao público, mas evita confrontá-la com coragem.
É na figura de Maggie, interpretada por Edebiri, que essa indecisão se torna mais evidente. A personagem carrega o eixo dramático central – sem sua denúncia, nada se movimentaria –, mas paradoxalmente é escrita de modo nebuloso, como se sua interioridade fosse um território proibido. Isso gera um ruído grave: um filme que busca comentar as relações de poder, os conflitos geracionais e os mecanismos da performance emocional não pode se dar ao luxo de tratar sua personagem fundamental como um enigma sem vontade própria. A crítica à cultura da exposição e do discurso ensaiado só funciona quando há compreensão do que motiva a exposição, do que sustenta o discurso. Aqui, não há sequer pistas suficientes. E isso retira força do que deveria ser o centro ético da obra.
A montagem também contribui para essa sensação de dispersão. Há momentos em que o filme aposta numa cadência lenta, diluída, construída para incitar o desconforto. Em outros, salta abruptamente entre cenas, como se estivesse tentando manter o espectador alerta pela quebra constante de ritmo. Essa oscilação enfraquece a construção dramática e torna alguns conflitos quase arbitrários. O longa parece agir como um debatedor que desfere golpes retóricos sem estar realmente interessado em sustentar uma linha argumentativa.

A grande questão de Depois da Caçada é que Guadagnino deseja falar sobre a performance. A performance do intelecto, da indignação, da superioridade moral, da fragilidade e até mesmo da culpa. Mas, ao tentar observar todos os ângulos sem escolher um eixo claro, acaba realizando justamente o que critica: uma encenação elaborada que esconde, no fundo, a relutância em se comprometer. Sua crítica ao meio acadêmico, às redes de poder, à juventude que se afirma por meio da exposição e à geração que disfarça traumas sob camadas de racionalização é válida, mas não amadurece o suficiente para ganhar força.
Ainda assim, não é um filme sem méritos. Quando Guadagnino se concentra em pequenos gestos, o olhar evasivo, a respiração acelerada, a tensão das mãos, consegue tocar em algo genuíno. É nesses instantes de intimidade desconfortável que o cineasta lembra por que tem sido celebrado. No entanto, a soma dessas breves faíscas não consegue suplir a falta de uma visão clara do que se deseja comunicar.
Depois da Caçada é, em essência, um estudo de crises individuais inseridas em crises coletivas. Mas, no final, o que permanece é a sensação de que o longa poderia ir mais fundo, de que as ideias estavam ali, prontas para serem confrontadas, mas ficaram à margem da própria ambição. É um filme que quer incendiar, mas sopra a brasa com cuidado demais, e, por isso, nunca acende por completo.
Leia outras críticas:
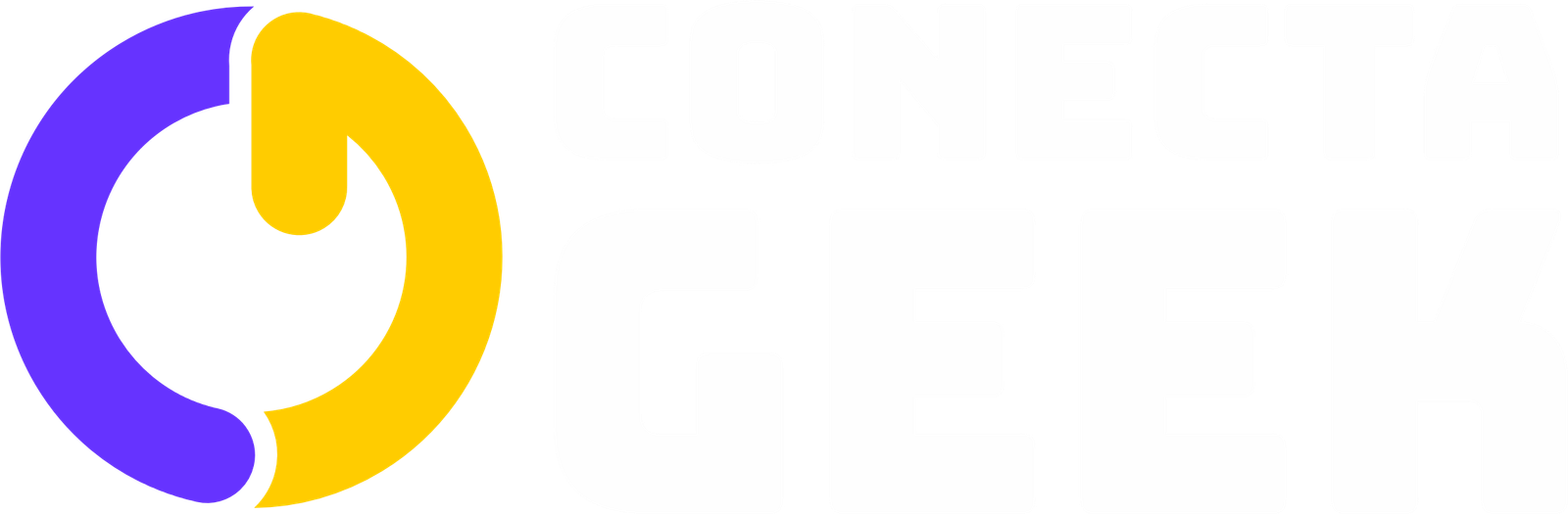


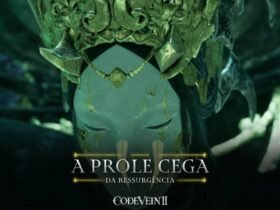







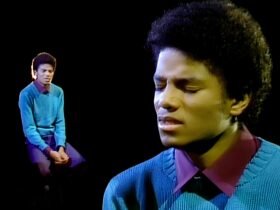

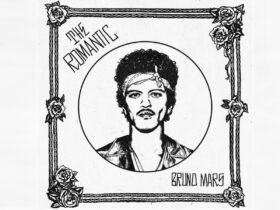


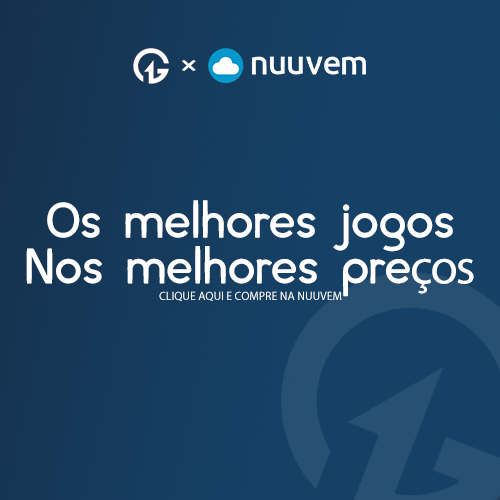




Deixe uma resposta