O fascínio público pelos dramas privados dos bilionários é um fenômeno cultural duradouro. Seja na ficção, como em “Succession”, seja nos escândalos reais que abastecem a mídia, há uma atração quase antropológica em observar como a quantia obscena de dinheiro distorce relacionamentos, afetos e moralidades. É neste terreno que se insere A Mulher Mais Rica do Mundo, dirigido por Thierry Klifa (“Tudo O Que Nos Separa”), um filme que pega emprestado os contornos do célebre “Caso Bettencourt” – no qual a herdeira da L’Oréal, Liliane Bettencourt, foi envolvida em uma trama de suposta manipulação por um amigo mais jovem — para construir uma narrativa sobre isolamento afetivo e dependência emocional no topo do mundo. No entanto, a ambição satírica do projeto esbarra em uma execução cinematográfica que, por vezes, beira a anonimato, resultando em um drama que observa a gaiola de ouro, mas não consegue abrir sua porta.
Klifa opta por uma abordagem que prioriza o melodrama familiar em detrimento do thriller jurídico ou da sátira social. A história é apresentada em estrutura não linear, abrindo com a invasão policial à mansão de Marianne Farrère (Isabelle Huppert), uma estratégia narrativa que busca criar suspense sobre o “como chegamos até aqui”. Este flashforward inicial, porém, acaba por esvaziar parte da tensão do restante do filme, já que sabemos o destino da relação central.
A atuação de Huppert tende a funcionar como o eixo gravitacional do filme, e aqui não é diferente: sua Marianne Farrère, herdeira de um império cosmético e figura de adoração e repulsa pública, é construída com gestos quase imperceptíveis, mas carregados de um distanciamento emocional que transmite a sensação de que a personagem não apenas vive isolada — ela já se tornou, na prática, uma entidade intocável. É uma interpretação que evoca frieza sem transformar a figura em caricatura, e justamente por isso torna-se uma das poucas âncoras emocionais da narrativa. Não é difícil perceber que Klifa deposita sobre sua protagonista boa parte da força dramática que o roteiro, por si só, não consegue sustentar.

No entanto, se Huppert caminha com segurança, a direção parece avançar com passos menos firmes. O filme aposta em um estilo visual que privilegia a elegância: ambientes imponentes, composições que destacam a opulência do cenário e uma fotografia que busca a superfície impecável, como espelhos polidos refletindo apenas o exterior. Contudo, esse cuidado formal raramente se converte em comentário visual profundo. A mise-en-scène não contesta o luxo; apenas o registra. E essa decisão estética se torna problemática quando lembramos que a obra tenta flertar com a crítica aos excessos e contradições dos ultrarricos. O brilho invade a tela, mas pouco ilumina o subtexto.
A fotografia adota uma paleta que mistura tons neutros e luminosos — uma opção coerente com a ideia de um mundo higienizado, quase asséptico, onde conflitos parecem sempre amortecidos pelo dinheiro. Ainda assim, os enquadramentos raramente dialogam com a psicologia dos personagens. Há momentos em que a câmera poderia explorar mais a distância entre Marianne e aqueles ao seu redor, aprofundando o sentimento de isolamento que a define. Em vez disso, Klifa recorre a uma abordagem mais convencional, preferindo observar a ação sem interferir. A experiência visual do filme, portanto, carece de um ponto de vista claro; é bela, mas pouco expressiva.

Quando Laurent Lafitte entra em cena como Pierre-Alain, o sedutor fotógrafo que se posiciona como bobo da corte moderno, o longa finalmente ganha algum ritmo. Ele imprime ao personagem uma energia calculadamente exagerada, suficiente para despertar suspeitas e, ao mesmo tempo, fascínio. Porém, por mais que Lafitte se esforce, sua trajetória dramática permanece limitada. O filme estabelece sua figura como catalisadora do caos, mas nunca o desenvolve além do arquétipo do oportunista encantador. A promessa de um jogo psicológico mais perverso se dissipa porque o roteiro não explora com profundidade as ambivalências morais que este tipo de personagem exigiria.
Marina Foïs, como Frédérique, oferece uma atuação marcada pela melancolia de quem busca um afeto sempre negado, criando algumas das raras cenas em que o drama familiar adquire densidade emocional. Seu olhar desconfiado para Pierre-Alain e sua frustração diante da mãe poderiam ter dado origem a um conflito poderoso, capaz de tensionar o espectador. No entanto, Klifa prefere contornar o confronto direto, mantendo a narrativa em um registro quase suavizado, como se temesse aprofundar demais o desconforto. É justamente essa hesitação que impede o filme de alcançar um tom verdadeiramente satírico ou tragicamente humano.
A montagem segue ritmo funcional, com poucas ousadias formais. Algumas inserções em formato de depoimento — uma escolha narrativa que lembra docudramas — tentam adicionar um ar de testemunho ou de reconstrução histórica, mas acabam contrastando de maneira estranha com a textura melodramática predominante. É um recurso que causa mais ruído do que esclarecimento, criando uma sensação de que o filme oscila entre estilos sem conseguir harmonizá-los. A montagem, ao optar por uma progressão linear e segura, não acentua as tensões internas e externas dos personagens; apenas acompanha o desenvolvimento dos fatos.
Ao longo da projeção, percebe-se que Klifa está mais interessado em observar a teatralidade do comportamento humano do que em analisar suas causas, e esse enfoque se mostra adequado quando pensamos na natureza farsesca do enredo. No entanto, falta ao diretor coragem para mergulhar plenamente no grotesco que ele mesmo insinua. O humor, quando aparece, costuma surgir de situações exageradas, mas nunca se converte em crítica contundente. É um riso contido, quase tímido, que impede o filme de atingir o tipo de sátira como a já citada Succession ou mesmo “The White Lotus”.

No fundo, A Mulher Mais Rica do Mundo parece querer equilibrar glamour e crítica social, mas acaba por não satisfazer completamente nenhum dos propósitos. Há momentos em que vislumbramos o filme que poderia ter sido — sobretudo quando Huppert circula pelos cenários como se estivesse entediada até pela própria magnificência —, mas essas faíscas nunca se transformam em chama. O poder e o privilégio estão lá, expostos, mas raramente dissecados.
Ainda assim, existe um valor inegável em observar como Klifa tenta, mesmo que de forma não inteiramente bem-sucedida, explorar a solidão que acompanha os muito ricos. Em seu melhor estado, o filme revela que a riqueza extrema é incapaz de preencher o abismo afetivo que se abre entre seus personagens. Em seu pior, parece uma vitrine luxuosamente decorada, mas com poucas ideias arriscadas no interior.
Leia outras críticas:
















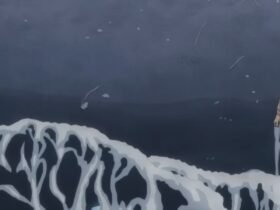







Deixe uma resposta