Em Paraíso em Chamas, a diretora sueca Mika Gustafson constrói com rara delicadeza um universo feminino à deriva, onde o abandono dos adultos é apenas o ponto de partida para revelar o que sobra quando o cuidado vira luxo; laços improvisados, afetos que se formam entre os escombros e uma infância que resiste como pode. O longa, que acompanha três irmãs abandonadas pela mãe em um subúrbio da Suécia, caminha no que poderia ser um dramalhão social, mas encontra seu coração ao olhar com generosidade e honestidade para essas meninas e o pequeno mundo que elas constroem para si, entre amadurecimentos forçados e breves respiros de liberdade.
Gustafson acerta em cheio ao escolher narrar a história por dentro, evitando o distanciamento típico de obras que se colocam como observadoras do sofrimento alheio. Sua câmera – fluida, sempre próxima e em movimento – opta por colar-se às personagens, dando à narrativa uma perspectiva quase documental. Não há aqui grandes explicações, flashbacks explicativos ou julgamentos morais. Tudo é sugerido a partir do cotidiano. A rotina de furtos, as pequenas celebrações, os momentos de silêncio e as trocas de carinho entre as irmãs formam o verdadeiro enredo desse filme.

A trama acompanha Laura (Bianca Delbravo), a mais velha das irmãs, que, diante do completo desaparecimento materno, assume para si o papel de tutora de suas duas irmãs menores. É ela quem organiza os horários, garante a comida (quando possível), protege e orienta. Ao seu redor, cresce uma pequena vila de afetos improvisados; vizinhas, outras meninas, relações breves que ganham importância pela escassez. A força do longa, no entanto, não está apenas na representação da maternidade ausente, mas na forma como ele revela a permanência da responsabilidade feminina em todas as esferas – um tema que percorre silenciosamente a obra, quase como uma camada inevitável da existência.
O olhar de Gustafson sobre suas personagens é generoso, mas também profundamente atento. A diretora não romantiza a precariedade, mas tampouco transforma o filme em um inventário da miséria. Ao contrário, há uma vibração constante de vitalidade em cena, como se mesmo nos piores dias essas meninas fossem capazes de criar pequenos refúgios de prazer e descoberta. A sequência em que comemoram a primeira menstruação, por exemplo, é um respiro entre tantas tensões – mas mesmo esse momento de alegria será inevitavelmente seguido de caos, como se o mundo adulto insistisse em espreitar cada instante de liberdade.
A fotografia, assinada com sensibilidade e um olhar quase lírico, explora a luz natural e os espaços urbanos de maneira a construir um paradoxo visual: um cenário árido e desestruturado que abriga, no entanto, uma infância cheia de inventividade. Há uma paleta de cores terrosas e opacas, que dá unidade à estética do filme sem jamais torná-lo monocromático. O uso da luz, especialmente nos interiores, realça a intimidade das cenas, e cria uma atmosfera ao mesmo tempo sufocante e protetora – como se os poucos espaços seguros das meninas fossem construídos entre sombras.

A montagem, por sua vez, merece destaque pela forma como costura as diferentes experiências das irmãs, em especial no terço final do filme. Uma das cenas mais marcantes acontece quando as três vivem situações-limite separadamente, e a edição intercala suas experiências até levá-las de volta ao encontro. Esse momento, longe de ser apenas um clímax emocional, sintetiza com precisão o coração do longa. Mesmo desamparadas, machucadas, elas voltam umas às outras como único abrigo possível. A montagem aqui não só estrutura o tempo da narrativa, mas reforça o elo invisível que liga essas três meninas – mais forte que qualquer laço de sangue.
Em termos de atuação, o trio central é simplesmente excepcional. Delbravo, como Laura, entrega uma performance de maturidade precoce e exaustão contida, sempre no limite entre a força e o colapso. Safira Mossberg, como a caçula, comove com uma presença que mistura ingenuidade e bravura – é impossível não sentir o peso que essa pequena carrega nos ombros. A irmã do meio, interpretada com igual precisão por Dilvin Asaad, encontra no desequilíbrio emocional seu espaço de expressão, tornando-se uma espécie de bússola emocional do filme. É esse trio, orientado pela direção segura e intuitiva de Gustafson, que sustenta o filme com autenticidade.
O que torna Paraíso em Chamas tão potente é justamente a recusa em entregar respostas ou caminhos fáceis. A maternidade, quando surge, é incompleta, frágil ou desfeita. A paternidade, praticamente inexistente, nem chega a ser questionada. O sistema social, representado pela figura da assistente social que ameaça separar as irmãs, aparece mais como um espectro do que como solução. Nesse vácuo, o que resta é a tentativa – nem sempre bem-sucedida – de inventar um tipo de família possível. Um lar montado a partir de restos, improvisos e decisões tomadas cedo demais.

Mas se há abandono, há também resistência. E essa resistência é feminina, jovem e feroz. Gustafson entende que, ao filmar essas meninas em um mundo que insiste em apagá-las, está não apenas dando-lhes voz, mas criando um espaço onde elas finalmente podem ser vistas. A diretora não está interessada em soluções mágicas, mas em retratar com honestidade esse pedaço de vida que tantas vezes se passa fora das câmeras. E é justamente aí que o filme se eleva, ao desconstruir com sensibilidade o falso paraíso em que essas meninas tentam sobreviver, sem jamais negar o amor que elas conseguem construir, apesar de tudo.
Paraíso em Chamas deixa no espectador uma imagem difícil de esquecer – não porque é grandiosa, mas porque é real. Um olhar, um toque, uma caminhada silenciosa de volta ao abrigo das irmãs. É nesse gesto, mais do que em qualquer grito ou denúncia, que o filme encontra sua força. E, sobretudo, sua beleza.
Leia outras críticas:














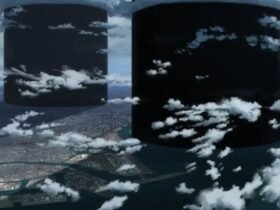








Deixe uma resposta