Assistir Rua do Medo: Rainha do Baile foi uma experiência curiosa para quem acompanhou a trilogia original de 2021. Enquanto os três primeiros filmes, apesar de claramente moldados para agradar aos algoritmos da Netflix, traziam uma energia própria e um certo carisma na forma como brincavam com as convenções do gênero slasher, este novo capítulo parece ter sido concebido em uma planilha de Excel. Tudo está ali: o cenário de baile de formatura, o assassino mascarado, as mortes violentas, os arquétipos adolescentes. Mas falta o principal – aquela centelha de vida que fazia os filmes anteriores, mesmo em seus momentos mais clichês, funcionarem como algo além de exercícios de nostalgia.
A produção já começou com um sinal amarelo: a troca de direção. Originalmente, o projeto estava nas mãos de Chloe Okuno, cineasta responsável pelo ótimo “Observador”, um thriller psicológico que demonstrava um olhar afiado para tensão e personagens femininos. No lugar dela, entrou Matt Palmer, diretor de “Calibre”, um filme competente, mas que não prepara ninguém para as demandas de um slasher cheio de sangue e tropos adolescentes. O resultado é um filme que parece hesitar entre ser uma homenagem aos anos 1980 e apenas mais um título no catálogo infinito da Netflix, sem nunca se decidir por nenhum dos dois.
O roteiro, baseado nos livros de R.L. Stine, segue Lori (India Fowler), uma garota que, contra todas as expectativas, é coroada rainha do baile em Shadyside – só para descobrir que alguém está matando as candidatas uma a uma. A premissa é clássica, quase um “Baile de Formatura” (1980) com um toque de “Carrie, A Estraha” (1976), mas a execução é tão mecânica que fica difícil se envolver.

Os personagens são esboços de arquétipos: a protagonista traumatizada, a rival rica e má, o grupo de amigos que existem apenas para morrer. Nenhum deles ganha profundidade suficiente para que suas mortes – ou sobrevivências – importem. Lori tem um conflito envolvendo a mãe (Lili Taylor, criminosamente subutilizada), mas isso nunca vai além de diálogos expositivos. As relações entre as personagens são tão rasas que, quando as facadas começam, é difícil se importar.
A fotografia, assinada por Klemens Becker, tenta emular o visual dos slashers dos anos 1980, mas sem a ousadia necessária, que ficam piores com a escolha de um filtro tão limpo, que ele denuncia o que realmente é: um filme atual, esteticamente higienizado, emulando os anos 80. Além disso, as cenas noturnas são mal iluminadas, sem contraste, e as sequências de perseguição são editadas de forma tão rápida que perdem toda a tensão. Em um momento, uma personagem é perseguida pelo assassino – e, em vez de uma cena claustrofóbica, temos cortes tão frenéticos que fica difícil entender o que está acontecendo.
A direção de arte tenta evocar a década, mas sem convicção. As roupas parecem ter saído de um brechó, os cabelos estão longe do exagero da época, e até a trilha sonora – embora cheia de hits conhecidos – parece mais uma playlist de Spotify com um título “This is anos 80, “do que parte integrante do filme.

As mortes, pelo menos, são um ponto positivo. Elas são brutais, sangrentas e, em alguns casos, até criativas. Uma cena envolvendo uma ferramenta de artesanato é particularmente memorável. Os efeitos práticos são bem feitos, e há um prazer macabro em ver o filme abraçar seu lado gore. O problema é que essas cenas são desperdiçadas. Em um slasher clássico, as mortes são construídas – há suspense, medo, uma sensação de que qualquer um pode morrer. Aqui, elas acontecem de forma tão abrupta que não há tempo para se importar.
No elenco, India Fowler, como Lori, entrega uma performance sólida, mesmo com um material fraco. Ela consegue transmitir a vulnerabilidade da personagem sem cair no melodrama. Ella Rubin, como Melissa, também tem momentos de brilho – é uma pena que seu personagem não tenha sido mais explorado. Já Fina Strazza, como a rival Tiffany, parece estar em um filme diferente – sua atuação é tão exagerada que beira o cômico. Chris Klein, em um papel menor, parece completamente perdido, como se tivesse entrado no set sem saber o que estava fazendo ali.

Dito tudo isso, Rua do Medo: Rainha do Baile não é um filme terrível. É competente o suficiente para passar o tempo, tem algumas mortes divertidas e um elenco que tenta salvar o que pode. Mas é também um filme que não deveria existir – pelo menos não dessa forma.
A trilogia original, mesmo sendo um produto da era do streaming, tinha alma e uma construção que justificava ser uma trilogia e ser lançada da forma que foi feita. Este novo capítulo, lançado quatro anos depois, parece ter sido encomendado por um relatório de dados. E no fim, esse é o seu maior pecado: não ser memorável. Nem como slasher, nem como produto de entretenimento.
Se a ideia era provar que a franquia ainda tem vida, Rainha do Baile acaba fazendo o oposto – mostrando que, sem um olhar criativo, até a nostalgia mais calculada pode morrer.
Leia outras críticas:
- Crítica | Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes nem é tão ruim quanto dizem
- Crítica | Oh, Canadá: Quando o cinema é o único confessionário possível para um cineasta covarde
- Crítica | Boa premissa é suficientes para prender o espectador em ‘Confinado’













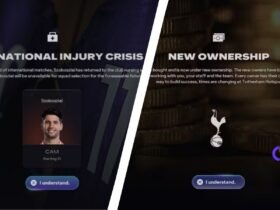


Deixe uma resposta