Nas últimas semanas, é praticamente impossível circular por São Paulo sem cruzar com o olhar fixo e monocromático de Wandinha Addams. As estações de metrô adesivadas, os totens de shoppings, as paradas de ônibus estampadas com a personagem interpretada por Jenna Ortega na série da Netflix transformaram a cidade num grande convite para mergulhar de volta ao universo gótico mais pop que a cultura de massa já produziu. A produção, criada sob o guarda-chuva criativo de Tim Burton, está na sua 2ª temporada, e mesmo que eu só tenha começado a assistir agora (ainda sem terminar a 1ª), já tenho elementos suficientes para dizer: Wandinha reacendeu um debate importante sobre o que significa, hoje, ser gótico – dentro e fora da ficção.
E não se trata apenas de moda ou estética. A série funciona como vitrine de um universo com décadas de história, mas também como espelho distorcido dessa subcultura. Dependendo de quem observa, esse reflexo é encantador, divertido, até representativo. Para outros, no entanto, ele corre o risco de reforçar estereótipos e diluir o significado original da cena gótica, transformando-a em produto pasteurizado, ajustado para o gosto e o algoritmo de um streaming global.
Mesmo antes de dar play no primeiro episódio, já sabia que Wandinha tinha se tornado um fenômeno. Andar por São Paulo nas últimas semanas é quase como atravessar um grande painel publicitário contínuo da série. Do centro à zona sul, do metrô Consolação aos corredores de shoppings como o Eldorado, não há como escapar do marketing massivo. Essa presença física da série na paisagem urbana é parte do que me motivou a finalmente assistir.

O que a campanha deixa claro é que, mesmo sendo herdeira de uma franquia antiga (A Família Addams já existe desde 1938), Wandinha conseguiu encontrar uma linguagem que conversa diretamente com o público jovem de hoje. Isso inclui uma estética cuidadosamente calibrada: figurinos pretos, ambientação fúnebre, elementos de fantasia sombria e, claro, a personalidade “ranzinza” que já é marca registrada da personagem.
Mas como aponta o influenciador e gótico Pedro Augusto (ou Piter Salvatore, como é conhecido online) para o Lab Notícias, há uma diferença entre gostar dessa representação e reconhecer nela um retrato fiel da subcultura.
O que é, afinal, a cultura gótica?
A estética gótica, como movimento cultural, não nasceu nas telas. Sua origem remonta ao final dos anos 1970, em Londres, como um desdobramento do punk. Menos agressivo na sonoridade, mas tão contestador quanto, o gótico se construiu sobre uma base de música, moda e literatura, mesclando referências do romantismo sombrio, do horror clássico e de um certo niilismo político.
A roupa preta – frequentemente de veludo, couro ou renda –, a maquiagem carregada e a postura melancólica eram (e ainda são) signos visíveis de algo mais profundo: um manifesto contra o sistema e uma busca por pertencimento em tempos de instabilidade. Como lembra o stylist Alexandre Schnabl, “a moda gótica fica em evidência toda vez que temos um ambiente muito carregado do ponto de vista social, econômico e político”.
Ao longo das décadas, o gótico atravessou a música (com nomes como Siouxsie Sioux e The Cure), o cinema (com a melancólica Lydia Deetz de “Os Fantasmas Se Divertem” como ícone) e a moda, até chegar a tapetes vermelhos pelas mãos de grifes como Valentino e Thierry Mugler. Mas, apesar dessas apropriações pela cultura pop, a subcultura sempre manteve um núcleo resistente, formado por quem vive o gótico não só como estética, mas como identidade.
Representatividade ou estereótipo?
Para Piter Salvatore, Wandinha tem um efeito ambíguo. Por um lado, dá visibilidade a elementos da cultura gótica para um público que talvez nunca tivesse contato com ela – e isso, vindo de uma série da Netflix, tem peso. Por outro, a personagem carrega características que não são representativas da comunidade como um todo, mas sim próprias de sua personalidade ficcional.

“Ela é ranzinza e um pouco sociopata, mas isso é dela, não exatamente das pessoas góticas”, diz. Ao mesmo tempo, Wandinha exibe comportamentos comuns no estereótipo gótico: gosto por temas sombrios, uso teatral do corpo, apreciação por literatura antiga, distanciamento social e uma visão não trágica da morte.
Esse equilíbrio entre representação e caricatura é o que torna a série discutível. Para alguns, é um passo positivo ver traços góticos tratados com seriedade e protagonismo, em vez de reduzidos a figuras excêntricas de segundo plano. Para outros, é o risco de transformar uma identidade complexa em produto de consumo rápido – algo que o público possa “usar” por um tempo e depois descartar, sem entender sua profundidade.
O fator Tim Burton e a lógica do streaming
Parte do encanto de Wandinha vem, sem dúvida, da estética que Tim Burton empresta à produção. Mesmo não dirigindo todos os episódios, o cineasta assina os cinco primeiros e imprime neles sua marca: cenários sombrios, humor macabro, referências à literatura gótica clássica e um cuidado visual que remete a filmes como “Edward Mãos de Tesoura” e “A Noiva Cadáver”.
No entanto, como observam alguns fãs, a série também se rende à “lógica Netflix”: cenas e escolhas narrativas pensadas para gerar clipes virais, músicas pop na trilha sonora para manter ritmo e engajamento, momentos que suavizam a densidade da personagem para não afastar o público casual. É o preço de transformar uma figura “diferentona” em fenômeno global.
E aqui está talvez a grande contradição, para alcançar tanta gente, Wandinha precisa se adaptar a fórmulas que, inevitavelmente, traem um pouco da lógica interna de sua protagonista. Afinal, se a personagem odeia música pop, por que todo episódio tem uma na trilha? É um detalhe, sim, mas sintomático do quanto o produto final precisa equilibrar autenticidade e acessibilidade.
O impacto para a subcultura gótica
O sucesso da série provoca dois movimentos simultâneos. De um lado, jovens descobrem a estética e a filosofia góticas pela primeira vez, muitas vezes inspirados a explorar mais – seja na música, na moda ou na literatura. De outro, há um incômodo entre veteranos da cena, que veem o fenômeno como “hype” passageiro, capaz de gerar idolatria pelo fictício e rejeição pelo real.
Esse embate não é novo. Movimentos subculturais sempre sofreram tensões quando expostos ao mainstream. No caso do gótico, há até preconceitos internos: veteranos que rejeitam os “baby bats” (novos adeptos), puristas que limitam a subcultura à música e resistência a estilos mais recentes. A chegada de Wandinha ao centro da cultura pop só intensifica essas disputas.
Ainda assim, há consenso em um ponto: a série reacendeu a conversa sobre o que é ser gótico hoje. Para quem vive a estética e para quem a observa de fora, ela provoca reflexões sobre identidade, representação e comercialização de culturas alternativas.
O que fica depois do hype
Quando a segunda temporada estrear, provavelmente veremos São Paulo novamente tomada por anúncios e vitrines de Wandinha. A estética gótica continuará desfilando nas passarelas, nas redes sociais e nas playlists. Mas o desafio, para quem se importa com a subcultura, será separar o que é apenas tendência passageira do que pode gerar interesse genuíno e duradouro.
E, para quem, como eu, está assistindo à série agora, a questão vai além de gostar ou não da personagem. É sobre perceber como um produto cultural pode servir de porta de entrada para universos inteiros – e, ao mesmo tempo, como pode simplificá-los para caber no formato de uma temporada de streaming.
Leia outros especiais:
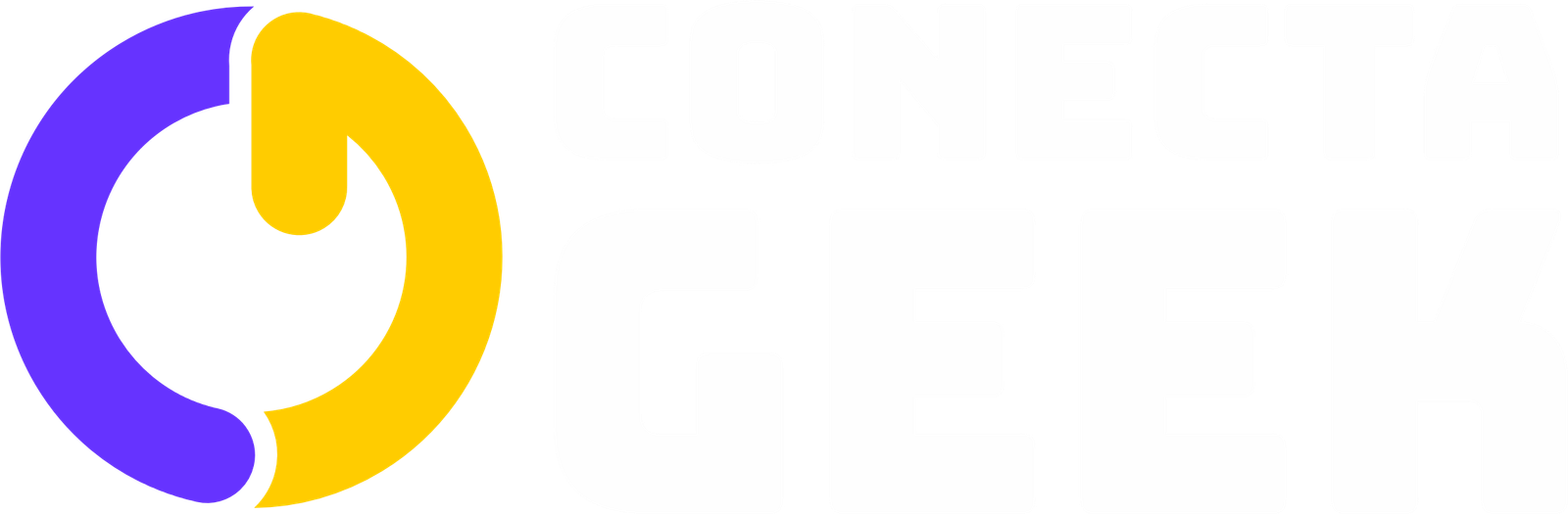



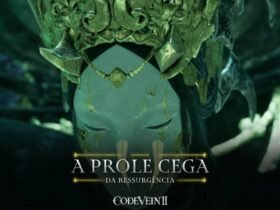







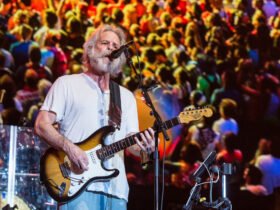
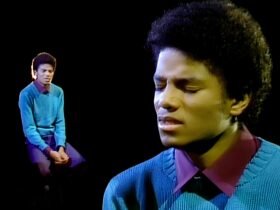


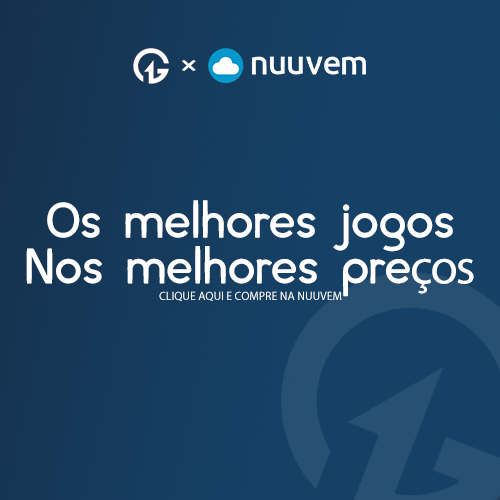




Deixe uma resposta