3 Obás de Xangô, novo documentário de Sérgio Machado, é antes de tudo uma experiência sensorial e afetiva que transcende a mera biografia de três artistas baianos. Ao se debruçar sobre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, a obra constrói uma narrativa em que amizade, religiosidade e cultura se entrelaçam como fios inseparáveis de uma mesma trama. O resultado não é apenas um retrato histórico, mas um mergulho profundo no imaginário coletivo que moldou a Bahia e reverbera por todo o Brasil.
Machado, que já demonstrou sensibilidade em trabalhos como “Cidade Baixa” e “A Luta do Século”, adota aqui uma abordagem que equilibra intimidade e reverência. Sua direção se apoia em escolhas de linguagem cinematográfica que potencializam o caráter afetivo da obra. A fotografia valoriza a exuberância das cores, dos espaços e dos corpos, evitando o exotismo que tantas vezes marca representações do candomblé. Em vez disso, a câmera busca a proximidade, convidando o espectador a sentir-se parte das rodas, dos rituais e das conversas. É uma estética que não apenas mostra, mas inclui.
A montagem desempenha papel crucial nesse sentido. Ao costurar imagens de arquivo, correspondências, registros pessoais e entrevistas, o filme ganha ritmo orgânico, que flui como uma roda de samba ou uma prosa entre amigos. Não há a rigidez de uma cronologia linear; ao contrário, a narrativa se permite circular entre passado e presente, entre memória e reflexão. Esse recurso confere ao espectador a sensação de estar entrando e saindo das casas dos três protagonistas, sempre recebendo o convite de permanecer um pouco mais.
A escolha de Lázaro Ramos como narrador é outro acerto. Sua voz não se impõe, mas conduz com suavidade, criando intimidade ao ler cartas e depoimentos. É uma performance que dá vida às palavras escritas, aproximando-as do público e transformando-as em diálogos vivos. A narração ganha força justamente por sua simplicidade, sem recorrer a excessos ou dramaticidades artificiais.
O filme, no entanto, não se limita a exaltar três figuras consagradas. Ele se dedica a mostrar como suas artes – literatura, música e pintura – se entrelaçam com o candomblé e com a vida popular da Bahia. Ao tratar da religiosidade, Machado evita a postura antropológica ou distante; a espiritualidade é apresentada como força vital, inseparável das obras e das personalidades retratadas. Nesse ponto, a direção revela coragem, pois encara uma tradição frequentemente alvo de preconceitos e a coloca no centro da narrativa como motor da cultura.
Tecnicamente, essa valorização se expressa também no uso do som. Canções de Caymmi ecoam como extensão de sua alma, enquanto as imagens das telas de Carybé ganham movimento e textura com a trilha que as acompanha. A fusão entre música, voz e imagem é feita de maneira harmoniosa, sem atropelos, reforçando a ideia de que esses três universos artísticos dialogam constantemente.

Apesar da riqueza, há pequenos desequilíbrios perceptíveis. Carybé, por exemplo, acaba recebendo menos espaço em tela em comparação a Amado e Caymmi, o que enfraquece parcialmente a proposta de uma narrativa tríplice. É um detalhe que não compromete a experiência como um todo, mas chama a atenção pela discrepância diante do peso simbólico que cada um deveria ter. Ainda assim, quando o artista plástico aparece, suas obras e seu papel na construção do imaginário baiano são tratados com respeito e emoção.
Um dos grandes méritos de Machado é compreender que essas trajetórias pessoais não cabem apenas em uma vitrine de feitos. Ele mostra a vida cotidiana, os gestos de amizade, os risos partilhados. Há cenas em que a simplicidade fala mais alto que qualquer grande feito; Amado insistindo para que Zélia cante diante da câmera, ou Caymmi se divertindo em meio a amigos. Momentos assim humanizam figuras muitas vezes colocadas em pedestais inalcançáveis. O documentário, portanto, desfaz distâncias; não vemos mitos, mas pessoas que, com suas alegrias e fragilidades, ajudaram a construir uma herança cultural inestimável.
O aspecto político também se impõe, mesmo que de maneira delicada. Ao trazer à tona o candomblé e sua história de perseguição, o filme lembra que a cultura brasileira se ergueu muitas vezes em resistência. O paralelo com a clandestinidade da capoeira ou com a repressão sofrida por expressões afro-brasileiras está presente nas imagens de arquivo, que revelam uma Salvador marcada por tensões, mas também por vitalidade. Nesse sentido, o documentário não apenas celebra o passado, mas convida a refletir sobre o presente: intolerância religiosa e racismo estrutural ainda persistem, e a memória dos obás funciona como escudo simbólico contra essas violências.

Outro elemento de destaque é a forma como o longa transforma o ato de recordar em gesto coletivo. Ao reunir depoimentos de artistas, intelectuais e líderes religiosos, o filme não se fecha em si mesmo. A memória não é tratada como posse privada, mas como herança compartilhada. O público, então, é incluído nessa roda; não assiste de fora, mas é convidado a participar da festa, do rito, da conversa.
No campo estético, essa experiência se traduz em imagens quase táteis da Bahia. O mar, as ruas, os corpos e as cores são apresentados com intensidade, criando uma atmosfera que se aproxima da vivência física. É um recurso que vai além do registro documental, tocando no poético. O espectador não apenas observa a Bahia, ele a sente, quase a toca, imerso em sua vibração.
No desfecho, o filme atinge sua maior força. A amizade entre Amado, Caymmi e Carybé é retratada não como um detalhe biográfico, mas como centro vital da narrativa. O riso, a cumplicidade e a leveza surgem como formas de resistência tanto quanto a própria arte. Ao abraçar essa dimensão, o documentário se afasta da rigidez e assume tom acolhedor, como se as casas dos protagonistas se abrissem ao público. Essa sensação de partilha é o que torna 3 Obás de Xangô mais do que um filme, mas sim em uma roda de memória.
Leia outras críticas:
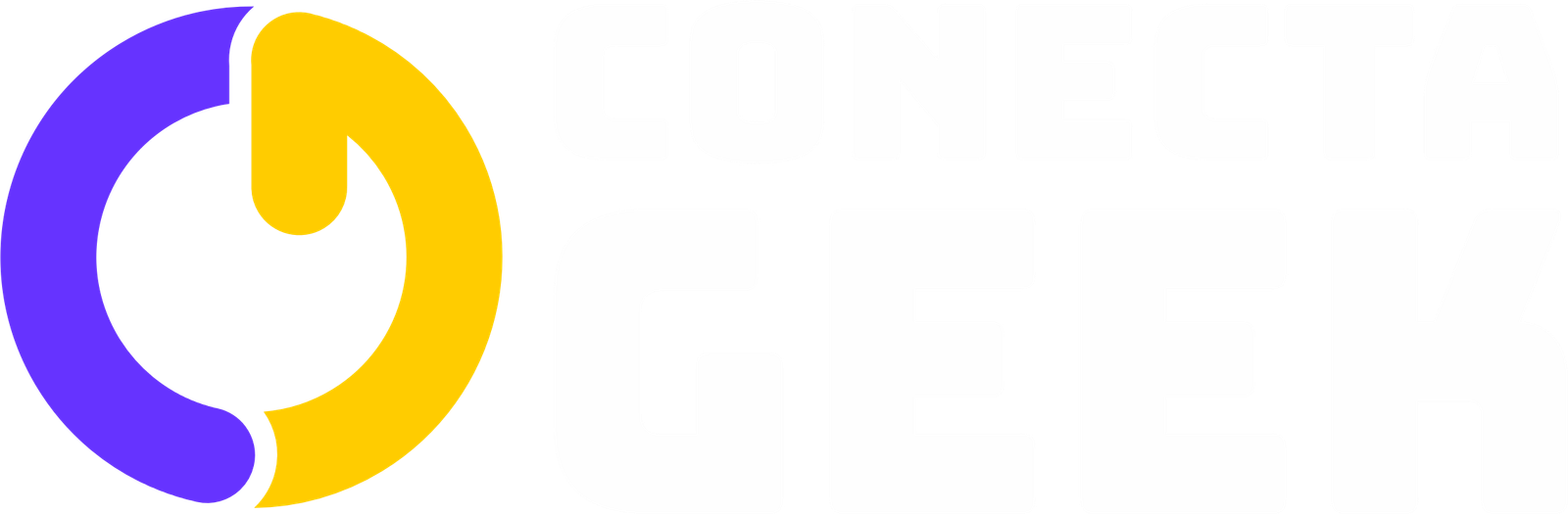












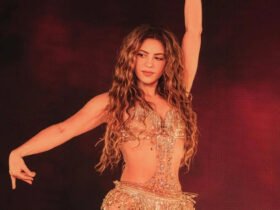









Deixe uma resposta